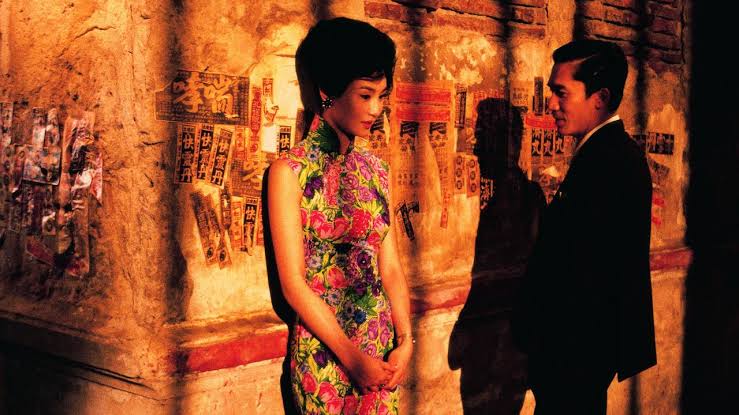Há uma cisão explicitamente visível na cena que abre o documentário O Processo, de Maria Augusta Ramos. As multidões pró e anti impeachment da então presidente Dilma Roussef, observadas por uma câmera que sobrevoa lentamente o gramado do Planalto, vibram e gritam, distantes uma da outra, seus respectivos jargões de protesto. De um lado, homens e mulheres vestem figurinos vermelhos, dentre os quais é fácil imaginar uniformes da CUT, MST ou bandeiras petistas; do outro, camisas verde-amarelas da CBF que tremulam sobre corpos aparentemente irritados, uniformes esportivos que agora servem de símbolo, simplório e piegas, de uma direita pseudopatriota barulhenta e vazia de ideias.
É esse mesmo movimento de câmera que percorre os céus da capital brasileira nas cenas derradeiras do famigerado Democracia em Vertigem, de Petra Costa, nos fazendo contemplar, devidamente embebidos do tom melancólico-burguês que inunda o filme através da narração de Petra, um caos instaurado que se revela, também, na (de)formação confusa das mesmas multidões antagonistas que protagonizavam os instantes iniciais de O Processo.


O mesmo momento político, a mesma observação que, à altura do lançamento de ambos os filmes, já poderia parecer um tanto óbvia: o país estava dividido, polarizado.
Os paralelos e diferenças que se podem traçar entre esses dois documentários nos permitem perceber a construção e consolidação de um discurso político essencialmente unilateral que, em seus vícios e apelos de linguagem, transformaram a possibilidade de mergulhar fundo nas profundezas multiformes e multifacetadas de nossa história política recente em um mergulho raso, às vezes pouco revelador. Estes dois filmes, aliados ao desespero faminto de certa esquerda ansiosa por representações palatáveis e respostas imediatas aos melindrosos golpes sofridos, alcançaram algum sucesso de público (principalmente o filme de Petra Costa, indicado ao Oscar de melhor documentário), mas não conseguem dar conta da real complexidade do jogo político que nos governa e, em sua astúcia perversa, nos torna refém.
O teórico e crítico de cinema Jean-Claude Bernardet chegou a apontar em um post no Facebook (a partir de uma conversa com a própria Maria Augusta sobre certa tensão entre ela e Petra enquanto cineastas que filmavam, ao mesmo tempo, o mesmo processo e, nessa mecânica, esbarravam uma no estilo de filmar da outra) para as diferenças estéticas e semânticas que acabariam por revelar dois modos de fazer política e cinema, entrelaçadamente.
Bernardet destaca que Petra filma muito perto das pessoas, closes do rosto, da textura da pele; cita como exemplo o material de Lula se entregando a PF: “emocionante, dramático”, ele diz. Em contrapartida o que Maria Augusta parece querer filmar, com seus planos mais abertos e enquadramentos mais amplos, é (desde seus filmes anteriores) os rituais da instituição política que promoveu todo o espetáculo patético do impeachment.

Mas é na montagem desses dois documentários que seus discursos se aproximam, principalmente na maneira como abordam as mudanças do Partido dos Trabalhadores durante a trajetória que se propõem a cobrir em suas narrativas.
Em Democracia em Vertigem, há uma visível diferença na forma de retratar o Lula carismático no sindicato dos bancários, rodeado de apoiadores, em direção à prisão, e o Lula das campanhas (a montagem mostra a evolução dos figurinos durante as campanhas eleitorais enquanto a voz de Petra, talvez em certo tom de ironia, utiliza a expressão “conciliação de classe”, termo nunca usado pelo PT) – é como se o filme tentasse resguardar e proteger a imagem do Lula carismático, tentando deixar de lado a do Lula conciliador.
Em O Processo, a sequência das alegações finais do julgamento de Dilma recorta e remonta as falas de Janaína Paschoal e José Eduardo Cardozo, de modo que elas, através do contraste das posições jurídicas e políticas que se contrapõem em discurso e postura, se complementem: Paschoal fala em “fazer sofrer a senhora (Dilma) pelo seu bem”, enquanto Cardozo, com ironia, lembra que Dilma havia sido torturada, parodiando a fala anterior de Janaína. É um jogo de cena que se dá através das palavras, mas que acaba por flagrar a fragilidade da esquerda naquele momento.
“Cada plano capta um momento da situação, mas a articulação dos dois cria nova significação: ao retomar a fala de Janaína de forma paródica e crítica, Cardoso atua dentro do território criado por ela. E dentro desse território balizado pela acusação e pela direita, ele tem um posicionamento reativo”, analisa Bernardet em outro post no Facebook.

A postura desse discurso, que se inicia no campo da política e reverbera nas linguagens do cinema, pode ser lida como defensiva, às vezes lamuriosa, porque se mostra aprisionada, atrelada ao discurso da direita.
Esse discurso perde ainda mais força quando confrontado com a potência de outros filmes, talvez menos famosos ou de menor circulação (filmes de distribuição mais restrita), que ousam olhar não apenas para um lado ou um aspecto da história, mas para feridas mais profundas de um país que, seja em suas múltiplas mazelas socioeconômicas ou em seus mais antigos e enraizados preconceitos estruturais, espelha e alimenta a insuficiência moral de nossas figuras e instituições políticas. São filmes que, desviando o foco do picadeiro do circo sem graça da política, investigam e expõem outras fontes possíveis, formadas debaixo de nosso nariz desde 1500, e apontam para o caos que, agora, nos assola.
Em Espero Tua (Re)Volta, Eliza Capai prefere se afastar desse registro dos bastidores e dos rituais institucionais adotado tanto por O Processo quanto por Democracia em Vertigem para voltar no tempo, votar às ruas, às manifestações, até o marco das marchas de julho de 2013. Ao invés de eleger um único lado, um só discurso ou um ponto de vista unilateral, Capai prefere permitir que seu filme se entregue à multiplicidade conflitante e complementar de seus três protagonistas, jovens secundaristas com visões políticas divergentes. Esse contraste potencializa o discurso do filme, pois o multiplica, lhe confere facetas múltiplas, plurais, complexas. É essa contradição entre a posição política de seus protagonistas que abrirá as cortinas e revelará o espetáculo tosco do fascismo meticulosamente planejado do governo de São Paulo, berço das manifestações daquele ano.

É à partir disso, dessa dinâmica entre as personagens, que tudo se potencializa e cada cena adquire a urgência de uma manifestação política. Um encontro de movimentos estudantis, a organização de um almoço coletivo em uma escola ocupada ou uma conversa entre dois jovens negros numa calçada (onde ao fundo uma abordagem policial inapropriada literalmente reconfigura e atualiza a cena) se transformam em verdadeiras declarações, revoltadas e urgentes, a respeito da insuficiência do atual sistema político. E uma bomba explodindo se faz leitmotif do discurso. Quantas merendas poderiam ter sido compradas com o dinheiro gasto com uma única bomba de gás lançada contra estudantes secundaristas em manifestação? A pergunta ainda ecoa quando o filme acaba.
Auto de Resistência, de Natasha Neri e Lula Carvalho, também parece querer registrar o ritual de uma instituição, mas para isso não se atém somente às paredes, rostos e vozes do rito jurídico e se aprofunda no sofrimento das famílias envolvidas nos processos que o filme acompanha, vítimas dos chamados “autos de resistência” que serviram para justificar atos criminosos de uma polícia assassina e racista, treinada para matar primeiro e perguntar depois.

Auto de Resistência é um dedo na ferida aberta da falida política do Rio de Janeiro, que tem a polícia militar como a ponta de uma caneta cuja tinta é o sangue de corpos negros das periferias cariocas, uma caneta manipulada pelas mãos de governos descaradamente fascistas capazes, por exemplo, de comemorar a morte como quem comemora um gol, com o agravante de transformar o gesto em um espetáculo grotesco e televisionado.
Em Martírio, de Vincent Carelli, a investigação é ainda mais profunda, remonta de tempos muito antigos e nos faz ver, ainda aberta, uma ferida ancestral, cuja observação se faz fundamental para compreender nossas origens enquanto povo.
A interminável guerra entre latifundiários e tribos indígenas é observada por câmeras que parecem muito interessadas nos corpos dos índios, em sua postura diante das ameaças do avanço do homem branco, no modo como respeitam a terra e sobrevivem dela; câmeras que se aproximam de rostos a fim de capturar suas expressões mais minuciosas.
Por outro lado, Martírio filma as instituições políticas (inegáveis agentes do interminável massacre indígena no Brasil), a uma distância segura, como se desconfiasse, ao lado dos índios, das intenções daquelas figuras políticas. As ligações que o documentário faz, através da montagem, entre latifundiários e figuras políticas é muito evidente e ressoa o que está anunciado desde os planos iniciais: não é possível ser isento e, neste caso, o único lado humanamente possível para se estar é ao lado de quem sofre, na pele, as consequências da ganância infinita de um sistema falido.

Uma sessão dupla de Martírio e Ex-Pajé (Luiz Bolognesi) comporia uma apavorante porém necessária aula sobre o poder destruidor da ganância humana, capaz de promover o apagamento de toda uma história e cultura, fundadoras do próprio povo que, a cada dia mais, esquece suas origens.
Por fim, um clássico do documentário brasileiro como Cabra Marcado Pra Morrer, de Eduardo Coutinho, parece gritar do passado, não como um artefato ou uma relíquia cinematográfica, mas como uma obra viva e pulsante que ainda tem muito a dizer. Revisitar um projeto inacabado, reconfigurando-o, transformou um filme sobre um camponês assassinado por latifundiários em um verdadeiro flagrante histórico, tanto pelo fato de ter as filmagens interrompidas por uma perseguição promovida pela ditadura, quanto pela maneira como Coutinho volta ao filme interrompido, 17 anos depois, buscando sobreviventes daquela época e acaba por encontrar a figura icônica de Elizabeth Teixeira. É dos eventos cinematográficos mais poderosos e politicamente relevantes de nossa história. É a prova em forma de filme da devastação incalculável causada pela Ditadura, mas é também a imagem emblemática de um povo que, acima de tudo, resistiu e sobreviveu.
Apesar dessa força deflagradora de Cabra Marcado e do Cinema Brasileiro, os fantasmas do Golpe Militar nos perseguiram até aqui. Forjaram suas sombras nos mais tenebrosos porões da política institucional e, agora, recobraram suas forças e esnobam o projeto identitário do brasileiro ao ponto de, com uma canetada, tentar extinguir a cultura, ignorar a arte, destruir o cinema, rebaixar tudo isso a um status que, na verdade, caberia unicamente a eles.
Talvez, portanto, ainda seja necessário revisitar Elizabeth Teixeira e sua luta silenciosa, ou observar secundaristas e ocupar as escolas com eles, ou chorar ao lado das mães da periferia e caminhar com elas, não esquecer e manter viva a memória dos nossos povos originários. Se um dia já não houver mais força para lutar e resistir em nossos corpos cansados, que reste, apesar de tudo, a potência inegável de nossa cultura, de nossa história, de nossa arte, de nosso Cinema.